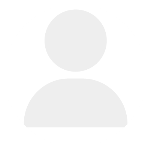O tema 1.075, do STF, e os limites territoriais da coisa julgada coletiva
O texto examina o problema dos limites territoriais da coisa julgada coletiva, a ser examinado em breve pelo STF (tema 1.075).
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021
Atualizado às 15:53

No dia 25 de fevereiro está pautado para julgamento, perante o plenário do Supremo Tribunal Federal, o tema 1.075. Fundamentalmente, discute-se a constitucionalidade do art. 16, da Lei da Ação Civil Pública, que a seu turno trata da possibilidade ou não de que uma decisão - tomada em um processo coletivo - tenha abrangência nacional.
O recurso, interposto por instituições financeiras em face de uma decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - que, reafirmando seu entendimento anterior, concluíra que é sim possível que uma decisão tomada em ação civil pública tenha eficácia nacional, desde que proferida por juiz de Capital de Estado - defende exatamente o ponto de vista contrário, ou seja, a ideia de que ações coletivas só devem ser eficazes "nos limites territoriais do órgão prolator da decisão". Vale dizer: um juiz de Curitiba só poderia decidir um problema (ainda que ele seja nacional) nos limites territoriais de Curitiba; um juiz de São Paulo faria o mesmo limitadamente ao território de São Paulo e assim sucessivamente.
Parece desnecessário dizer que, se a tese vingar, será um golpe duro a todo o sistema de tutela coletiva brasileiro e, ao mesmo tempo, um gigantesco estímulo às lesões de massa. Afinal, ainda que uma grande empresa provoque uma evidente lesão ao direito de pessoas situadas em todo território nacional, seriam necessárias aproximadamente 5.570 ações coletivas (correspondentes ao número de municípios do país) para que, de forma "coletiva", o problema fosse sanado. Ou, o que é muito pior, seriam necessárias um sem número de ações individuais para que todos os prejudicados tivessem seus interesses protegidos.
Salta aos olhos, desde logo, a absoluta irracionalidade dessa proposição, sustentada justamente por violadores sistemáticos de direitos de forma coletiva. Os dados colhidos pelo Conselho Nacional de Justiça demonstram, repetidamente, que, ao lado do Poder Público e de concessionárias de serviços públicos, os bancos sempre figuram dentre os maiores litigantes do país. E a lógica demonstra que, para um litigante contumaz, capaz de impingir prejuízos a todos os consumidores nacionalmente, é sempre melhor litigar de forma individual do que coletiva, sobretudo quando esta possa repercutir de modo nacional. Afinal, no campo individual, muitas pessoas podem não se sentir estimuladas a buscar o Poder Judiciário (contentando-se, então, com o prejuízo sofrido) e não se pode deixar de contar com a álea que pode fazer com que algumas das demandas individuais recebam julgamento contrário aos consumidores. Já no plano coletivo, especialmente se o resultado pode ter abrangência nacional, ter-se-á uma única demanda, cujo resultado pode implicar uma alteração de comportamento do réu litigante de massa para todo o Brasil, ou um dever de indenizar os prejuízos causados a todos os brasileiros vítimas do fato. Sem dúvida, esta última opção é um risco que o grande empresário não quer correr.
Por isso, é até justificável que bancos e outros litigantes habituais se esforcem em defender a esdrúxula posição de que a sentença coletiva deve sempre estar atrelada aos limites da competência do juiz, não ultrapassando as fronteiras de um município. Todavia, do ponto de vista jurídico, a tese é manifestamente inviável.
De um lado, porque ela implica solução claramente inconstitucional. Embora este texto não se destine a examinar argumentos técnicos sobre o problema, é importante frisar que, no campo coletivo, pode-se dividir os direitos em metaindividuais (chamados pela lei brasileira de direitos difusos ou coletivos) e individuais de massa (denominados de direitos individuais homogêneos). Os primeiros, por definição legal (art. 81, parágrafo único, inc. I e II, do Código de Defesa do Consumidor) são necessariamente "de natureza indivisível". Isso significa dizer que esses direitos não podem ser fracionados em parcelas individuais: ninguém pode arrogar-se como titular desses direitos, nem de parcela deles. É o caso, por exemplo, do meio ambiente: ninguém pode dizer-se dono do meio ambiente, nem de uma fração ideal dele; o meio ambiente pertence a todos de modo indivisível. Já os direitos individuais homogêneos são individuais (como o próprio nome diz), mas, por serem muito semelhantes, permitem proteção judicial conjunta. Imagine-se uma lesão a interesses dos consumidores, que são expostos a um produto que possa ser nocivo à saúde: os indivíduos têm direito próprio a indenização, que poderia ser veiculada em demanda individual; porém, obviamente, é muito melhor (para os consumidores e para o próprio Poder Judiciário) que essas indenizações sejam resolvidas todas em uma única demanda, seja em razão da preservação da igualdade, da facilidade de acesso à Justiça, de facilitação da prova etc.
Posta esta premissa, parece evidente que a discussão aqui colocada não abrange os direitos metaindividuais. Ninguém, por mais boa vontade que tenha, pode imaginar a limitação territorial de uma decisão que discute um direito que, por sua própria natureza, é indivisível! Seria como imaginar que um juiz do Rio de Janeiro só pudesse proibir a poluição do mar no litoral carioca, embora estivesse liberada a poluição do litoral de Niterói ou de Angra dos Reis, por exemplo. O problema, aqui, não é jurídico, mas lógico. Não é possível cindir o que, por natureza, é indivisível!
Logo, a discussão se limita aos direitos individuais de massa - justamente aqueles que são, mais frequentemente, objeto de lesões de massa praticados por grandes empresas, pelo Poder Público e por concessionárias de serviços públicos. Curiosamente, porém, o art. 16, em questão, está colocado na Lei da Ação Civil Pública - foi ali incluído por uma medida provisória em 2001 - cujo objetivo sempre foi o de proteger direitos metaindividuais (e não individuais de massa), como facilmente se vê do seu art. 1º, inc. IV. Ou seja, o dispositivo - colocado ali por uma medida provisória de constitucionalidade mais do que duvidosa - foi posto justamente em uma lei que jamais teve a pretensão de regular a proteção dos direitos de massa!
De todo modo, deixe-se de lado a questão "topológica", que aqui assume menor importância justamente em razão do restante do problema. Na ótica defendida pelos bancos no recurso extraordinário mencionado, o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública seria constitucional e legítimo, já que nada impede que a lei fixe critérios para a interpretação da coisa julgada. A coisa julgada, porque não é um fenômeno natural, tem seus contornos dados pela lei; por isso, o legislador tem liberdade para oferecer o desenho que entenda adequado a esse instituto. Também, dizem os bancos, a medida tem por finalidade evitar o chamado forum shopping, ou seja, a possibilidade de que o autor de uma ação coletiva (de âmbito nacional que fosse) possa escolher onde quer litigar (se o dano ocorre em todo o país, supostamente qualquer lugar do Brasil poderia receber a ação coletiva que discute aquele problema).
Essa argumentação, porém, não convence. Aliás, não apenas não convence como deixa transparente que a real intenção dos grandes litigantes é, como já dito, simplesmente evitar uma perda nacional, de modo a cultivar a sempre lucrativa e conveniente cultura de praticar danos nacionais e responder por eles de forma individualizada.
Em primeiro lugar, com relação aos limites legais da coisa julgada, tem-se que concordar com o argumento dos bancos: a coisa julgada é uma criação legal e, por isso, tem seus limites ditados pela lei.
No entanto, o argumento é apenas uma cortina de fumaça para o verdadeiro tema. É que, na verdade, a discussão colocada não envolve o debate sobre a coisa julgada ou os seus limites. Embora o art. 16, da Lei da Ação Civil Pública, aluda à "coisa julgada", na realidade, não é disso que o dispositivo trata.
Coisa julgada é, por definição do Código de Processo Civil (art. 502), a imutabilidade e a indiscutibilidade de uma sentença judicial. Por força dessa característica, depois de esgotados os recursos que se poderia usar contra essa sentença judicial, ela se torna indiscutível: as partes não podem ajuizar outra demanda com a intenção de questionar o resultado do primeiro processo. O art. 16, mencionado, todavia, não pretende limitar a coisa julgada a um dado território (comarca, por exemplo), até porque isso seria algo irracional dentro do sistema brasileiro. Supor que uma decisão tivesse sua indiscutibilidade limitada à comarca de Salvador é imaginar que uma decisão proferida naquele local seria discutível e mutável em qualquer outra comarca. O sujeito, então, seria considerado pai de uma criança (por sentença judicial) na cidade de Salvador, mas fora desses limites territoriais todo o decidido seria passível de revisão por outro juiz. Evidentemente, isso é mais do que absurdo!
Existe, na verdade, um limite territorial para a coisa julgada, mas este corresponde ao território brasileiro. Como o Brasil só exerce sua soberania nos limites territoriais do país, é evidente que não pode exigir que outros países obedeçam e "não discutam" as suas decisões. O problema, porém, é uma questão de soberania e passa muito longe da discussão da coisa julgada.
Portanto, o art. 16, embora aluda à coisa julgada, quer na realidade limitar os efeitos de uma sentença judicial. Quer, na realidade, fazer com que uma decisão do juiz só produza efeitos para pessoas que residam na cidade abrangida pela competência territorial do prolator da decisão. Essa é a intenção (escamoteada) da regra.
E, sendo assim, é de se perguntar: se a coisa julgada pode ter seus limites definidos por lei, o mesmo pode ocorrer com os efeitos de uma sentença?
Ao menos desde a década de 50, no Brasil, tem-se certeza de que não! Uma sentença gera efeitos onde tem que gerar, sendo impossível pretender limitar essas consequências, pela simples razão de que não se tem como saber quem poderá senti-los. A afirmação pode soar estranha, mas não é.
Caso eu seja despejado do imóvel que ocupo, quem sofrerá os efeitos dessa decisão? Sem dúvida, eu sofrerei, porque não posso mais morar naquele lugar. Mas outras pessoas também sofrerão? Evidentemente, sim! Afinal, alguém que queira me visitar (ou se hospedar) nesse endereço, sem dúvida não me encontrará mais ali. Outra pessoa que queira locar o mesmo imóvel também será atingida, na medida em que encontrará o imóvel livre para ali ingressar. Ou seja, a rigor, todos estão sujeitos aos efeitos de uma sentença. O que difere, no entanto, é que, para as partes (por força da imutabilidade da coisa julgada) esses efeitos são indiscutíveis; para outros, eventualmente, desde que tenham algum interesse jurídico sobre a questão, os efeitos são percebidos e sentidos, mas podem ser esquivados pela propositura de ação própria.
De todo modo, o que se tem é que não é possível que a lei pretenda limitar os efeitos de uma sentença, na medida em que - ao contrário do que ocorre com a coisa julgada - esses efeitos não são uma ficção jurídica; são, ao contrário, consequências lógicas da decisão judicial.
Dessa forma, a limitação pretendida pelo art. 16, ao pretender fragmentar uma lesão de âmbito nacional esbarra em um claro problema de lógica. A se aceitar a tese defendida pelos bancos, ter-se-á que uma cláusula contratual (imposta a consumidores de todo o país) poderá ser tida como legal no município de Manaus, mas ilegal em Porto Alegre; ou que um certo comportamento gere direito a indenização em Belo Horizonte, mas não em Cuiabá. Alguém consegue defender a racionalidade disso?
É evidente, nesse ponto, que essa solução implica clara ofensa à garantia constitucional da igualdade (art. 5º, inc. I, da Constituição) e da própria inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição), na medida em que um dano de dimensões nacionais tem, por força dessa interpretação do art. 16, da Lei da Ação Civil Pública, impossibilitada a sua discussão adequada perante o Poder Judiciário.
Na verdade, as inconstitucionalidades da interpretação sugerida pelas instituições financeiras vão muito além dessa observação. Há problemas outros, vários, mas que transbordam os limites desta pequena reflexão.
Isto porque, aqui, não se pretende sequer aprofundar o problema da inconstitucionalidade do dispositivo em questão. O que se quer mostrar é que a simples interpretação da lei brasileira já demonstra que a tese defendida pelos bancos é claramente inviável.
Todos aqueles que trabalham com tutela coletiva sabem que há um "microssistema" de tutela coletiva, em que as várias leis sobre processo coletivo interagem em busca do melhor interesse dos direitos metaindividuais e individuais de massa. Não se pode, por isso, interpretar cada diploma legal separadamente; eles devem ser vistos em conjunto, como um sistema único e próprio.
Pois bem.
O Código de Defesa do Consumidor - um dos diplomas que integra aquele "microssistema" - no seu art. 93, regulamenta a competência para a propositura da ação civil pública que discute interesses de massa. Ali, diz que, quando o dano é local, a competência para a ação é do juiz do "foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano"; já quando o dano for nacional ou regional, a competência será do juiz da Capital do Estado ou do Distrito Federal.
Em primeiro lugar, olhando esse dispositivo, parece que fica mais do que claro que a lei brasileira admite a possibilidade de que danos nacionais ou regionais sejam discutidos no âmbito do Poder Judiciário. Logo, se existe essa possibilidade, seria no mínimo esquisito que, embora a parte possa alegar um dano nacional, a resposta do Judiciário fosse sempre fragmentada. Supor essa possibilidade seria, por via indireta, inviabilizar que questões nacionais ou regionais fossem levadas à análise do Judiciário.
A questão, porém, nem para por aí.
Ora, se essa regra é a regra que disciplina a competência para a ação coletiva que discute direitos individuais de massa, então é ela que deve ser aplicada ao art. 16, da Lei da Ação Civil Pública. Se o art. 16 diz que a "coisa julgada" (rectius, os efeitos) da sentença coletiva está contida aos "limites da competência territorial do órgão prolator", e se esses limites da competência territorial, para juízes de capital de Estado ou do Distrito Federal estão atrelados à regra do art. 93, do Código de Defesa do Consumidor, então é evidente que esses limites são, para aqueles juízes, todo o território (nacional ou regional) onde tenha ocorrido ou possa ocorrer o dano. Por outras palavras, se os juízes de capital ou do Distrito Federal são competentes para conhecer de danos nacionais ou regionais, então é evidente que os seus limites territoriais - para ações coletivas que discutam tais danos - englobam todo o território, no Brasil, onde esses danos sejam sentidos.
Desse modo, soa até estéril a discussão que os bancos pretendem levar à Suprema Corte brasileira. A inviabilidade da sua tese decorre da singela interpretação do próprio texto legal, independentemente de qualquer discussão de ordem constitucional. A rigor, portanto, sequer uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no caso em debate será capaz de tornar razoável a interpretação pretendida pelos bancos no RE 1.101.937.
Seja por uma adequada interpretação constitucional do sistema de tutela coletiva, seja por uma adequada interpretação legal desse mesmo sistema, seja ainda por uma simples questão de lógica, toda a sofisticada argumentação feita pelas instituições financeiras - para evitar prejuízos nacionais decorrentes das violações nacionais que produzam - desmorona como uma construção feita sobre a areia da praia. Parte de premissas equivocadas e, por isso, só pode chegar a conclusões e a respostas também equivocadas sob qualquer ponto de vista que se observe.
Por isso, e não obstante a importância da discussão e da decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal em breve, fato é que a tese defendida pelos bancos (e desejada por todos os litigantes habituais brasileiros) não resistem ao mais tênue sopro do bom-senso.