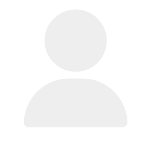Considerações sobre a eleição americana
Eleições americanas (e o seu colégio eleitoral) dão o ensejo para refletir sobre os porquês da existência do colégio eleitoral e sobre o funcionamento do voto distrital.
terça-feira, 15 de dezembro de 2020
Atualizado às 11:44

Há cerca de um mês, o mundo voltou seus olhos para a eleição americana. Muitos de nós, porém, sentimos um verdadeiro estranhamento em relação ao que vimos. O colégio eleitoral (para os que o desconheciam), causou esta sensação, talvez mais do que qualquer outra instituição particular dos americanos; o mesmo vale para a demora e a ineficiência da contagem de votos em alguns Estados; para a possibilidade de voto pelos correios, dentre outras particularidades daquelas eleições. No Brasil, o pleito estadunidense acabou virando tema para o escárnio (com um tom um pouco crítico), na forma de memes. Porém, por mais que digam que o riso corrige ("ridendo castigat mores"), se deixarmos de lado o deboche (além disso, não acredito, como explicarei abaixo, que os políticos americanos não vão se incomodar com o vexame), logo perceberemos que a eleição americana é ocasião para reflexão.
As duas ideias que quero trabalhar aqui tem um mesmo ponto de partida: o colégio eleitoral. Compreensivelmente, quando olhamos tal instituição vemos logo algo absurdo: como pode uma instituição, que se pretende democrática, dar a alguém que ganhe por um único voto (pensando, aqui, em um caso limítrofe, mas não impossível) todos os votos de um Estado (ou, melhor que falar em Estado, no caso, de uma unidade federativa)? Certamente, a maior parte das pessoas responde, como que por instinto, que o colégio eleitoral não é democrático.
Nesse sentido, o que nos aborrece quando vemos o colégio eleitoral, é a mesma coisa que nos aborreceria no voto distrital, que de tempos em tempos alguém propõe de reproduzir aqui. Explico. Nas eleições americanas, quem vence a eleição no Estado (nas eleições para presidente) leva todos os delegados do Estado, no voto distrital, quem vence no distrito leva o distrito e o outro lado (os perdedores) ficam sem representação (ou, como costuma se colocar na teoria política e jurídica, com a representação virtual, pois os representantes são representantes de todos e não mandatários, juridicamente vinculados às instruções do mandate, ao menos na teoria - e imagino que, em muitos casos, somente na teoria -)1. E.g., o voto para presidente de um republicano, em um Estado tipicamente democrata, possivelmente jamais contará para a vitória ou derrota do candidato republicano a presidente, pois os delegados do seu Estado irão, todos, para o candidato democrata. De forma muito similar, um democrata, que vota (agora pensando em eleições para o Congresso) em um distrito tipicamente republicano, possivelmente jamais terá um representante seu (i.e., um deputado em que ele votou) no Congresso americano, pois os republicanos, costumeiramente, perdem no distrito em que ele vota (o que resta a ele, portanto, em relação ao seu distrito, é a representação virtual). A lógica é a mesma: o vencedor leva tudo. Para quem está acostumado com uma situação (o voto distrital), a outra, logo, não parece tão absurda (o colégio eleitoral).
É lógico, porém, que há um importante contraponto a ser mencionado: as eleições para o Congresso visam à representação proporcional, enquanto as eleições para Presidente são majoritárias, correto? Não! No voto distrital para o Congresso, quem tem a maioria dos votos para ser o representante do distrito no Congresso é quem leva a cadeira do distrito, não é mais, portanto, voto proporcional, como entendemos aqui, mas sim majoritário, ainda que dentro da circunscrição do distrito. Assim como dentro de cada Estado elegemos senadores (pelo sistema majoritário), dentro de cada distrito, em um sistema distrital, se elege um deputado. No sistema americano, há, inclusive, o absurdo de existirem distritos não contestados nas eleições, i.e., distritos em que há somente um candidato democrata ou apenas um candidato republicano.
Poderíamos passar horas e horas conjecturando sobre o aconteceria com a implementação de um sistema distrital no Brasil. Não pretendo fazer isso, mas apenas para apontar uma possível repercussão se o sistema distrital fosse implementando aqui: o STF entende que eleitos no sistema majoritário, e.g., senadores, podem mudar de partido livremente, mas eleitos pelo sistema proporcional, não2. Se o voto distrital fosse implementado aqui e o STF considerasse este tipo de eleição majoritária (e não representativa, [o que, entendo, seria uma posição acertada]) - e, ademais, o STF entendesse necessário conservar o sentido de sua jurisprudência -, então, como consequência - lógica - deputados poderiam mudar de partido livremente, tal como podem, hoje, os senadores, sem perder os seus mandatos. Seria o fim de qualquer fidelidade partidária? Talvez.
Ficamos incomodados com a ideia de o vencedor leva tudo do colégio eleitoral, mas estamos dispostos a tolerar o voto distrital e discuti-lo, ainda que, no fundo, ele opere com a mesma lógica do colégio eleitoral americano, enquanto em nosso sistema, quando menos computamos o voto para partido (o problema são os partidos, as coligações, etc.) e não o perdemos, simplesmente. Dito isso, permito-me resolver a questão do colégio eleitoral de outro modo, que entendo mais satisfatório: a eleição do presidente é nacional, enquanto a do deputado, do senador, do vereador, é local. Ou seja, a existência de um colégio eleitoral, para a operação de uma lógica de o vencedor leva tudo, é desnecessária, pois a eleição para presidente já opera com esta lógica (no Brasil, idem). Mesmo assim, o colégio eleitoral continua existindo nos Estados Unidos, por quê?
Trata-se de algo que superamos, já há algumas (várias) décadas (mas bom lembrar, também, que não faz sequer um século), mas os americanos não. Os Estados Unidos não tem, como o Brasil, uma Justiça Eleitoral nacional, ou regras eleitorais nacionais (há algumas, mas não da mesma forma que nós), o que gera algumas (várias) particularidades: as regras de alistamento eleitoral, não são uniformes, alguns Estados, e.g., aceitam que pessoas que foram condenadas por um crime votem, outros Estados não (as condições especificas mudam de Estado para Estado); as regras para voto por correio, idem; a contagem de votos (o procedimento, a infraestrutura, a demora, etc.), também, variam gravemente de Estado para Estado (Nevada que o diga). Podemos ver isso como uma faceta inocente do (extremado) federalismo americano, certamente, não deixa de ser, mas há algo além. Não permitir o voto antecipado por correio (vale lembrar que a eleição americana é em uma terça e não em um domingo como a nossa), não permitir o voto de pessoas que já foram condenadas, etc. muda, efetivamente, quem vota (i.e., o conjunto dos eleitores) e, como consequência, muda os resultados eleitorais. Vou tomar como exemplo Joseph Stiglitz (prêmio Nobel de economia), que alega que o partido republicano visa a, hoje, governar sem ter a maioria3. Para fazer isso o colégio eleitoral é necessário, por mais desagradável e controverso que ele seja, pois, sem ele, é impossível obter vitória na eleição nacional, sem ter a maioria.
Ademais, voltando para a questão do federalismo, o colégio eleitoral garante um interessante aspecto de intangibilidade dos Estados pela União. Explico. Os Estados enviam delegados na eleição para presidente, os Estados enviam representantes para o Congresso, Senadores, etc. O ponto importante é, os Estados que enviam, a eleição não é nacional, mas sim local. Se tudo correr bem, o Estado comunica um resultado para a União (mas a apuração se dá no âmbito do Estado). Remover o colégio eleitoral desta equação e permitir a existência de uma eleição em moldes nacionais (para despistar qualquer dúvida, não há plebiscitos ou referendos nacionais nos Estados Unidos, nem os Estados podem fazê-los sobre matéria federal, como, e.g., a ratificação ou rejeição de uma emenda constitucional)4 seria o primeiro passo para a criação de uma justiça eleitoral nacional e de regras eleitorais nacionais. Se ambos os lados, ou pelo um lado, está jogando com as diferenças das regras eleitorais entre os Estados permitida pelo sistema descentralizado americano para conseguir vitória na arena política, as chances de esse sistema acabar se reduzem consideravelmente, pois ele é útil, do ponto de vista político.
Este texto foi mais uma discussão rápida do que uma defesa de qualquer sorte de tese, porém vou me permitir algumas rápidas conclusões: 1. Quando olhamos para sistemas eleitorais estrangeiros buscando inspiração, devemos sempre fazê-lo de forma crítica e buscando coerência com nossas próprias ideias. Quantas pessoas criticariam o sistema americano do colégio eleitoral, dizendo ser um verdadeiro absurdo que o vencedor leve tudo, mas defenderiam o sistema distrital para as eleições para o Legislativo? Ademais, o sistema majoritário existe entre nós, em alguns cargos (i.e., os majoritários), como, e.g., a presidência, sem que isto gere críticas frequentes; 2. O colégio eleitoral é um instrumento (jurídico) do jogo político norte-americano que permite uma pluralidade de regras eleitorais entre os Estados e a manipulação destas regras visando a determinados resultados. Em um sistema como o nosso, em que as regras eleitorais e a Justiça Eleitoral estão centralizadas, isto não acontece (exceto se as regras forem manipuladas em nível nacional, o que, certamente, é possível). Em tempos em que as pessoas falam em nova constituinte (não somente o Deputado Ricardo Barros5, ainda que ele tenha o sido o mais recente) e, consequentemente, em nova constituição, não é possivel imaginar que alguém saia a vociferar que a Justiça Eleitoral é cara, ineficiente, ruim e deveria ser extinta, ou que as unidades federativas devem ter mais autonomia, ou qualquer coisa do gênero. Não que não possamos criticar as instituições, porém é necessário ter consciência também, daquilo que as normas eleitorais nacionais e uma Justiça Eleitoral trazem como benefícios (benefícios que os estadunidenses, aliás, não têm).
______
1- KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução: Luís Carlos Borges. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016. pp. 413-418.
2- ADI 5081, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 18-08-2015 PUBLIC 19-08-2015 RTJ VOL-00237-01 PP-00066.
3- STIGLITZ, Joseph E. People, Power, and Profits - Progressive Capitalism for an Age of Discontent. New York: W. W. Norton & Company, 2019. p. 160.
4- SUPREME COURT (Estados Unidos). Hawke v. Smith. In: U.S. Reports. [S.l.], 1 jun. 1920. originalmente impresso. Disponível aqui. . Acesso em: 3 ago. 2020.
5- UOL. Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros defende nova constituinte no Brasil. Disponível em: aqui.. Acesso em: 8 nov. 2020.